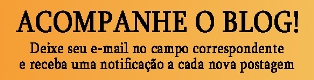BABILÔNIA
Foi o cineasta underground Kenneth Anger quem primeiro cunhou o paralelo entre Hollywood e a capital da Mesopotâmia, caracterizada nos relatos bíblicos como meca da degradação e do pecado. No livro Hollywood Babylon, escrito em 1959, Anger descreveu escândalos, crimes e loucuras dos subterrâneos da indústria do cinema entre as décadas de 1920 e 1950, muitos deles considerados como fake news.
Babilônia (Babylon), o filme de Damien Chazelle (Whiplash, La La Land), guarda relação direta senão com o texto, com o espírito do livro. Situa-se no mesmo período e pode ser visto como um filme à la clef. A starlet Nellie LaRoy (Margot Robbie) tem algo da suposta ninfomania de Clara Bow. O astro romântico Jack Conrad (Brad Pitt) pode corresponder a John Gilbert, enquanto a cantora gay Lady Fay Zhu (Li Jun Li) tem fumaças de Anna May Wong, a primeira grande estrela de ascendência asiática de Hollywood. Já o faz-tudo e quase magnata mexicano Manuel ‘Manny’ Torres (Diego Calva) seria uma síntese dos primeiros latinos a prosperarem nos estúdios. Que eu saiba, Irving Thalberg, o célebre produtor da MGM, é um dos poucos a aparecerem com seu nome real na pele do ator Max Minghella.
Desde a primeira sequência, de um elefante sendo transportado para uma festa, entramos na vibe extravagante de Babilônia. Logo somos tragados por uma síndrome que parece acometer certo cinema estadunidense contemporâneo: tudo ao mesmo tempo, só que, aqui, tudo é no mesmo lugar. Seja nas festas transbordantes de nudez, orgias, álcool, drogas e música, seja nos sets de filmagem que mais parecem feiras de variedades, é como se toda a efervescência de uma época se concentrasse no mesmo espaço e no mesmo momento. Quando não é a edição que cria paralelismos delirantes, são as ações simultâneas que acontecem nos vários planos do quadro.
Nessas passagens, o filme parece ter cheirado várias fileiras de cocaína, a exemplo do que faz Nellie e faziam muitas celebridades de Hollywood nos twenties. A euforia da câmera e da montagem sugere que o fato de essas duas categorias não terem sido indicadas para o Oscar deve ter causado enorme decepção. Babilônia concorre a apenas três: direção de arte (realmente fenomenal), figurinos e trilha musical.
Uma série incontável de pequenas histórias revolve em torno da relação entre a espevitada Nellie, cuja origem humilde lhe dificulta a ascensão, e Manny, que tem na disponibilidade seu maior trunfo. Um quê de Nasce uma Estrela ronda por ali. Por sua vez, o galã vivido com graça por Brad Pitt – sugerindo às vezes uma figura de ópera bufa – personifica a efemeridade do sucesso numa indústria que se transformava violentamente com a chegada do cinema falado.
A entrada do som no ambiente das filmagens assinala a principal referência de Babilônia ao mundo real do cinema. Cantando na Chuva é um subtexto que atravessa o filme quase de ponta a ponta. Uma longa sequência de dificuldades com o manejo do som no set ilustra o choque tecnológico da mesma forma como fazia o clássico musical de 1953. É bom lembrar que a canção Singing in the Rain é de 1929, tal como aparece num trecho de Babilônia que reencena o musical The Hollywood Review. Ela apenas inspirou o título do filme de Stanley Donen e Gene Kelly mais de 20 anos depois.
Boa parte de Babilônia não passa de uma gigantesca canastrice, mas levada com gusto e uma assumida e saudável irresponsabilidade. Chazelle não recua diante do pastelão, nem do excesso de alarido. O roteiro, um tanto atropelado, comete seu maior erro ao desenvolver mal o personagem do trompetista negro, que enfrenta uma espécie de racismo reverso em tempos de maquiagem blackface.
Eis um filme fácil de “detonar” por conta de suas intenções embaralhadas e seu desregramento em pouco mais de três horas de duração. Mas a verdade é que eu não consegui tirar os olhos da tela, e não somente por causa da estonteante Margot Robbie. Diverti-me até a sequência final, que homenageia a permanência do cinema em contraste com a fugacidade do material humano que o produz.