No cinema de Werner Herzog, a razão está com os loucos e os marginais, mas todos, pequenos e grandes, fracassam irremediavelmente
(Ensaio publicado originalmente no suplemento Folhetim da Folha de S. Paulo, em 22.7.1984, agora revisto e atualizado, e que serviu de base para minha palestra na mostra Herzog Além das Margens)
“Todos os meus filmes foram feitos como se não existisse a história do cinema.”, disse Herzog certa vez.
Embora não sejam necessariamente verdade sobre a obra, as declarações do autor podem propor uma discussão ou servir como ponto de partida para um comentário. Especialmente no caso de Werner Herzog, onde os paralelos entre homem e filmes são particularmente tentadores.
Christian Weisenborn e Erwin Keusch fizeram um documentário cujo título resume bem a questão: Eu Sou o que São os Meus Filmes (outra frase de Herzog). Nessa entrevista de longa-metragem ele se define como um autodidata que nunca foi assistente de ninguém nem frequentou qualquer escola de cinema. O desenraizamento está patente no seu cinema nômade, desligado de alegorias políticas, críticas regionalistas, libelos civis e dramas burgueses que animavam o Novo Cinema Alemão de Fassbinder, Wim Wenders e Alexander Kluge. O cinema de Herzog não comunga desses filões.
Até os anos 1980, pelo menos, Herzog considerava seus colegas em geral provincianos, não conversava com eles sobre cinema, não se sentia parte daquilo. Com Fassbinder, por exemplo, só se encontrava de seis em seis meses, em coquetéis.
Mas o isolamento, naturalmente, não poderia ser total. O cinema alemão, identificado desde o inicio com o macabro, o sinistro e o mórbido, sempre privilegiou os seres extraordinários: Golem, Caligari, Homunculus, vampiros, tiranos, criminosos e portadores de aberrações mentais. É nessas imediações que Herzog vai atuar, muito embora invertendo os sinais das personagens para expressar angústias humanas igualmente extraordinárias.
Siegfried Kracauer, grande teórico e estudioso do cinema alemão, autor do essencial De Caligari a Hitler, demonstra como o próprio humor cinematográfico alemão costuma realçar, paradoxalmente, o destino trágico do homem. Kracauer identifica, por sinal, em plena década de 1920, um surto de filmes sobre montanhas — signo muito caro a Herzog e, não por acaso, a Nietzsche.
Onde Herzog se distancia mais da herança do cinema alemão é na recusa aos seus suportes primordiais: o décor artificial e o aval da literatura. Enquanto o expressionismo alemão fez escola com a valorização dramática dos cenários e a encenação teatral, Herzog só duas vezes se valeu do teatro (Woyzeck, de Georg Büchner, e a ópera Giovanna D’Arco, que ele montou em 1989). Da literatura, serviu-se também somente duas vezes (Sinais de Vida, de Achim von Armin, e Cobra Verde, tirado de O Vice-rei de Uidá, de Bruce Chatwin). Quando levou às telas a história real de Kaspar Hauser, já existente em livro, não recorreu a nenhuma obra literária em especial. Mesmo na refilmagem do Nosferatu de Murnau (que Herzog considerava “o mais visionário dos filmes alemães”), apesar de reeditar usos formais do expressionismo alemão, transfigurou a alma do vampiro para profetizar a morte da burguesia.
Ainda que seja um cineasta, Herzog não tem seu patrimônio cultural no século XX. Os escritores Georg Büchner, Friedrich Hölderlin e Heinrich von Kleist, e os pintores Hieronymus Bosch, Pieter Bruegel e Leonardo DaVinci são influências confessas. Nietzsche também é facilmente identificável. Mais para o romantismo clássico que para o expressionismo, ele de certa forma acompanha a evasão saudosista dos criadores românticos rumo a mundos remotos (no tempo e no espaço), ao encontro do maravilhoso, do gótico e do fantástico — o cerne da consciência alemã.
A ideia de desterro preside toda a obra de Herzog, expressando, antes de mais nada, o repúdio do cineasta ao mundo contemporâneo. O desdém não é exatamente pela história do cinema nem pelo cinema alemão. É pela Europa, que ele considera a civilização da autodestruição, do tédio e da obesidade. Repúdio à forma como a sociedade se organiza em esquemas viciados e medíocres. Desprezo pela propriedade privada, desde que roubou uma câmera para fazer o primeiro filme até o hábito que tinha de arrombar casas e trailers alheios para dormir em suas andanças de andarilho invernal. Da sociedade industrial só aprecia as “formas vazias” — embalagens usadas, sucata, lixo. Despojos desse tipo transmitem uma ideia de fim do mundo em Fala Morgana e O País Onde Sonham as Formigas Verdes. Têm a beleza das coisas que deixaram de ser úteis para apenas ser.
Aqui vale a pena lembrar que mais recentemente ele se voltaria para questões contemporâneas, mas por um viés ambíguo, entre a curiosidade intelectual e a ironia. Por exemplo, em Uma História de Família ele abordou a confusão cada vez maior entre realidade e simulacro. Contratou como protagonista o empresário Ishii Yuishi para representar o seu próprio papel. Yuishi dirige uma empresa de Tóquio, a Family Romance, que há mais de dez anos aluga pessoas substitutas. Fenômeno exclusivamente japonês (até onde se saiba), atores são contratados para fazer o papel de maridos, amigos e toda sorte de papéis sociais em festas, funerais e simulacros de romance. A empresa vende simulações de sentimentos, e Herzog embarca nessa trip a ponto de criar situações simuladas para proveito do filme. O fake do fake, por assim dizer.
Ele examinou a internet em Os Delírios do Mundo Conectado procurando o mais pitoresco e inusitado possível. Nesse filme, o léxico herzoguiano está presente, por exemplo, na abertura solene ao som de Wagner, logo desmontada por uma anedota sobre os primórdios da internet. Ou no contraste entre a habitual narração circunspecta do diretor e as imagens que a desconstroem. Tomem-se, ainda, as intervenções autorreferentes de Herzog, seja oferecendo-se para viajar a Marte com uma passagem só de ida ou duvidando que algum robô possa um dia fazer filmes melhor do que ele. Entre as excentricidades coletadas estão os pacientes de uma clínica de reabilitação para viciados em internet e celular. Outros tipos singulares passam pela tela. Hackers, eremitas, designers de robôs e cientistas de fala histriônica compartilham seus feitos e inquietações. O mundo, para Herzog, é um lugar extravagante, habitado por um bando de malucos e gênios de aparência bizarra. O apocalipse nunca está descartado de suas indagações. E, Os Delírios do Mundo Conectado, ele especula sobre o fim do mundo caso o sol exploda e a internet saia do ar.
Para Herzog, a terra é mal feita, o mundo é incômodo, hostil e violento. Vários de seus filmes são a procura de um paraíso que só os grandes sonhadores podem divisar. Ele próprio está sempre em busca de paraísos da expressão — ou seja, locações longínquas onde encontre correspondências para as viagens da imaginação.
As viagens se dão basicamente em três canais: tempo, espaço e condição humana.
Em matéria de tempo, não chega a existir uma regra. Em 13 longas-metragens até 1984, sete se passavam em épocas remotas. O mais distante pode ser Nosferatu, situado provavelmente em algum trecho impreciso do século XV. A ação de Aguirre, a Cólera dos Deuses transcorre em 1560, em pleno ciclo das conquistas ibéricas. Coração de Cristal se situa em fins do século XVIII, nos primórdios da Era Industrial. No século XIX se passam Kaspar Hauser, Woyzeck (no início) e Fitzcarraldo (no final).
A predominância dos deslocamentos no tempo denuncia a preferência do autor pelos argumentos distanciados do plano circunstancial, o favorito da contemporaneidade. Avesso ao engajamento político imediato, ao sociologismo e à psicanálise, Herzog consegue manter-se à margem das discussões cotidianas mesmo ao lidar com temas de candente atualidade, como os de Stroszek (a emigração) e Onde Sonham as Formigas Verdes (a ecologia).
Ainda que nem sempre se volte para o passado, o cinema de Herzog costuma surpreender — ou pelo menos evocar — reservas de primitivismo insuspeitadas no planeta. Através da escolha de locações e do trabalho sonoro (músicas, ruídos), ele consegue sugerir uma ambiência ancestral, muitas vezes em conflito com o sentido denotativo das imagens. É o caso de Fata Morgana, onde extensos e inquietantes travellings sob o sol implacável do Saara argelino, em meio a carcaças de animais, de carros e de máquinas, transmitem uma curiosa sensação de que ali se defrontam o Gênese e o Apocalipse. Sobre as imagens quase abstratas, a voz de Lotte Eisner (grande historiadora do cinema alemão e autora de A Tela Demoníaca) repete textos sobre a criação do mundo, retirados do Popol Vuh, o livro sagrado dos indígenas Quechui da Guatemala, originário do século XVI. Popol Vuh era também o nome de uma banda de rock experimental alemã que fez a trilha de vários filmes de Herzog.
Em agosto de 1975, a população da Ilha de Guadalupe evacuou uma grande área, temendo uma erupção do vulcão Soufrière. Herzog e dois ajudantes fizeram o trajeto contrário, à procura de um homem idoso que se recusava a deixar o local. Ao encontrá-lo, os dois conversam sobre a morte. A câmera percorre solenemente as encostas da montanha envolvidas em vapor, a cidade vazia, os fantasmas da vida interrompida. A impressão é novamente de fim do mundo — terror, desolação e abandono. A realidade pura torna-se matéria-prima para o visionário. O tempo é filho da abstração.
Aos 18 anos, Herzog descobria o desconhecido: uma viagem ao Sudão. Aos 21, no sul da Áustria, rodava o segundo curta, Jogo na Areia (onde já colocava em xeque a noção de solidariedade humana). Em 1967, aos 25 anos, o encontro com a Grécia. O curta Últimas Palavras passava-se em Creta, e o primeiro longa, Sinais de Vida, na ilha de Kros. Sinais de Vida (“meu único filme inocente”) promove o enlace do romantismo germânico (a base é um romance curto de Achim von Armin, do século XIX) com os elementos básicos da tragédia grega (excesso ou excentricidade, loucura, assassínio, comentário coral da normalidade, etc). O crítico Maurice Roelens destacou a grecidade da obra de Herzog, bastando citar aqui as analogias frequentes com os mitos de Prometeu, Sísifo e dos titãs.
Em Sinais de Vida, é bem sintomático que a guerra (o circunstancial) não tenha passado pela ilha de Kros, onde um grupo de soldados deslocados do front são gradativamente oprimidos e enlouquecidos pelo sol e pela inércia. As cicatrizes da paisagem denunciam milênios de história, perpetuados na brancura inconsolável das ruínas. A monotonia é quebrada pela alucinação: milhares de moinhos rodopiam no vale. Um cigano aparece procurando sua pátria — palavra que não significa muito para Herzog, nem mesmo as montanhas bávaras onde nasceu, presentes, junto com o litoral irlandês, em Coração de Cristal.
Nesse filme, aliás, as paisagens, sugeridas por lendas germânicas, são majestáticas e abismais. Conta-se que o cineasta esperava horas a fio, com teutônica paciência, até que a neblina adquirisse textura e coloração ideais para conferir o misticismo necessário às tomadas. Porque Herzog, antípoda de Fellini, não rima com estúdio, truques cênicos ou tecnológicos. Em lugar de artifícios, ele busca o insólito no próprio real. Joga com as perspectivas e com as sugestões sonoras, trabalha com o olho na câmera. Da janela de seu apartamento filmou vários pousos de avião no aeroporto de Munique com uma superteleobjetiva. O resultado é uma sequência de estranha e irresistível beleza na abertura de Fata Morgana. Magia e simplicidade.
As paisagens estão cheias de verdade. Herzog as dirige, evitando qualquer traço de esteticismo ou puro escapismo. As agências de turismo recusariam todas. Podem ser estilizadas ou puramente repousantes. Podem ser masculinas como montanhas rochosas, ou femininas como dunas. O trigal ondulado pelo vento na abertura de Kaspar Hauser é um convite ao que será o filme: pura reflexão. A cena é musicada com a ária da Flauta Mágica em que Tamino canta a beleza de uma imagem nunca vista (o retrato de Tamina). O recado é claro — Herzog procura imagens nunca vistas, visões do planeta desconhecidas para as almas sedentárias. Com as paisagens ele diz procurar um lugar digno para o homem. E como, segundo Kracauer, o meio do mito é estático, as paisagens persistem calmamente na tela, muitas vezes depois de esgotada sua função acessória (quando há). Ficam na tela até adquirirem essência, textura, ressonância, sentido profundo, efeito hipnótico. O tempo estaciona com a natureza adormecida em coma prolongado. Da paisagem vazia nasce uma espécie de bem-aventurança. A nós, as paisagens herzoguianas restituem o direito e o prazer da contemplação em uma era de imagens cada vez mais ligeiras e padronizadas. Nesse sentido, o recuo de Herzog é para aquém da comunicação de massa. Retorno ao império do silêncio, hoje quase impossível. “Assistir a um filme de Herzog”, disse o crítico inglês Lawrence OToole, “é como voltar a ver após uma longa cegueira e ouvir depois de uma longa surdez”.
Neves iugoslavas e suíças em O Êxtase do Entalhador Steiner; Birmânia, Irlanda e o Saara espanhol em Kaspar Hauser; Quênia, Tanzânia, Argélia e Costa do Marfim em Fata Morgana e Medicina Volante na África Oriental; em Aguirre e Fitzcarraldo, o imaginário delirante representado pela Amazônia peruana, as torrentes do Amazonas e do Ucayali, a infernal Iquitos; uma aldeia anônima da República Tcheca em Woyzeck; o México e as Ilhas Canárias em Também os Anões Começaram Pequenos; os poços de petróleo do Kuwait em chamas em Lições da Escuridão; o Saara, a República Centro-africana, o Alaska, a Antártida, os Montes Cárpatos, a Taiga siberiana – de vulcões ativos e crateras deixadas por meteoros às nanopartículas do cérebro humano (em seu filme mais recente, Teatro do Pensamento), não há lugar extremo do mundo que não tenha sido vasculhado pela curiosidade de Herzog.
A ele não interessam as cidades, a menos que seja para criticá-las — como em Kaspar Hauser, Stroszek e Woyzeck — ou para contaminá-las, como em Nosferatu. As cidades são os redutos do dinheiro, do conceito e da desumanização. Seus filmes vão sempre mais longe. Do ponto de vista europeu, são reportagens sobre o extremo, as curvas do mundo. Nunca pelo exotismo dos lugares, mas pela necessidade do cineasta de distanciar os termos de sua conversa e pela procura de espaços eloquentes no aspecto metafórico. Em Também Os Anões Começaram Pequenos, as rochas de lava confinam e desamparam os anões em seu reformatório, as montanhas são símbolos de superação e autossuperação, a selva e suas brumas são o primitivismo por excelência. A ação de Onde Sonham as Formigas Verdes transcorre numa reserva de aborígenes na Austrália, onde uma profusão de lixo, folhas de zinco, embalagens descartáveis, equipamentos em decomposição e montes de terra escavada por uma companhia de mineração, espalhados por uma paisagem lunar, sugerem a ameaça concreta do processo civilizatório. Ao documentá-lo, Herzog procura os limites do real. Trata-se, é claro, de uma documentação incomum — ao mesmo tempo exacerbatória e distanciada, mais ou menos como a experiência de um sonho. De qualquer forma, real.
As incríveis histórias das filmagens de Herzog demonstram sua obsessão em dotar as obras de um forte conteúdo de verdade. Em Fitzcarraldo, por exemplo, ele preferiu promover a conhecida odisseia na selva a trabalhar comodamente com trucagens e maquetes. As equipes de Herzog sofreram perseguições, prisões, doenças, catástrofes e até perda de vidas pelos quatro cantos do mundo. O diretor lamenta, mas acha perfeitamente natural que isso aconteça, pois cinema para ele é mesmo caso de vida ou morte. Delírio e dor passam para o celuloide. Ao colocar os atores de Coração de Cristal sob efeito de hipnose, Herzog parecia agir como uma versão do Dr. Caligari, que na obra máxima do expressionismo alemão induzia um sonâmbulo a cometer os crimes que lhe interessavam. Isto contribuiu para a reputação de fascista que rondava o cineasta em certas áreas da crítica. Essa impressão, contudo, não resiste a um confronto com o tratamento dispensado por Herzog a seus insólitos personagens.
A análise dos seres herzoguianos requer, de pronto, uma distinção entre humanos menores (massacrados pelo destino patético) e super-humanos (exaltados pela dimensão trágica). Para com os humanos menores, sua atitude é geralmente de compaixão. Para com os super-humanos, um misto de fascinação e descrédito. Kaspar Hauser é o protótipo do humano menor, desprovido de todos os mecanismos de defesa numa sociedade tola e racionalista. A visão tem um pouco de Rousseau, mas é irresistível. Esse filme é a súmula do posicionamento de Herzog perante os humanos menores: cumplicidade absoluta na crítica à idiotia das leis, ao otimismo da ciência e ao papel regulador da Igreja. Kaspar Hauser é onde se delineia de modo mais puro a oposição entre o que Lévi-Strauss chamou de état de culture e état de nature. A grosso modo, entre mente e coração. A chave está no sonho de Kaspar — o guia cego conduz a caravana melhor do que as bússolas, pois o faz com o coração. Melhor não ver que ser enganado pelas miragens da aparência. Kaspar desaparece tão incógnito quanto surgira na pracinha de Nuremberg, mas sua derrota envenena a vitória dos supostos homens normais. Herzog, como a maioria dos poetas, está do lado da sensibilidade e do coração.
Bruno Stroszek é outro cândido, forjado pelo álcool e as prisões nazistas. É como se Kaspar tivesse sobrevivido até 1977. Ao emigrar para a América, Stroszek aceita a seu modo as regras do mundo pequeno-burguês e, da mesma forma, seu fiasco vai servir a uma condenação ampla e mordaz da sociedade moderna. O conflito natureza/mito versus progresso/lucro assume caráter antropológico em Coração de Cristal e Formigas Verdes. No primeiro, os aldeãos acreditam que a fabricação do vidro-rubi garante a própria perpetuação do mundo; no segundo, os bosquímanos lutam contra a indústria em defesa do sono sagrado das formigas verdes, que julgam responsáveis pela criação do mundo e pela preservação dos sonhos e das esperanças. O soldado Woyzeck, acusado de “pensar demais” e induzido pelas convenções sociais a matar sua mulher, é mais um humano menor indefeso e patético. O próprio Nosferatu troca a condição de tirano demoníaco pela de frágil e angustiado humano menor, condenado a presenciar eternamente a agitação fútil do mundo (e protagonista da única legítima love story de Herzog). O caso mais singular, entretanto, é o dos anões que travam uma revolta desordenada e inglória contra os administradores do reformatório em Também os Anões Começaram Pequenos. Esse filme é um desabafo cruel e anárquico de Herzog sobre a inutilidade da sublevação cega e o impasse a que conduz. A compaixão, aqui, cede lugar à negação mais furiosa dos princípios e virtudes que a cultura e a religião associaram ao gênero humano.
Os animais constituem uma instância reduzida do humano menor no plano da metáfora. Podem ser insetos confinados numa caixa ou num vidro, um camelo ajoelhado que tenta inutilmente se pôr de pé, um macaco crucificado, etc. Podem também simbolizar a estupidez do homem comum (porcos c galinhas) ou a invasão da verdade no reinado da ilusão e da mentira (os macacos de Aguirre, os ratos de Nosferatu).
Em O Homem Urso, Herzog coloca sua convicção sobre a natureza como algo que não pode ser tratado simplesmente pelo afeto. O grande erro de Timothy Treadwell foi achar que podia tratar o urso, animal predador, como um bichinho de estimação. A natureza, para Herzog, é uma instância de beleza e ameaça permanentes. Vulcões, meteoros, montanhas inóspitas e animais selvagens o atraem ao mesmo tempo que despertam sua desconfiança. O super-humano Treadwell, embriagado de ambientalismo, acaba devorado como um humano menor qualquer. Essa a ironia suprema de O Homem Urso.
Dois documentários sobre portadores de deficiência enquadram-se no filão dos humanos menores. Em Futuro Truncado, crianças vitimadas pela talidomida. Em O País do Silêncio e das Trevas, surdos-cegos, alguns dos quais, por falta de tratamento, vegetam em estado inferior ao de animais. Nesta impressionante visita a um universo de sensações puramente abstratas, vamos encontrar uma surda-cega transformada em supermulher. Fini Straubinger, depois de 30 anos de inatividade absoluta, vem a superar sua condição pelo exercício da assistência aos “companheiros de destino”. Algo semelhante ocorre com o Entalhador Steiner, ex-campeão de saltos em esqui convertido em artesão ao resistir à pressão do público para estabelecer sucessivos recordes. A câmera de Herzog transcende a timidez de Steiner mostrando-o como um super-humano que salta das montanhas de gelo para o infinito.
Os super-humanos de Herzog nascem também de uma conjunção da cultura grega com a alemã: de um lado, o mito dos titãs e sua rebelião inglória contra forças maiores (os deuses); de outro, as pregações de Nietzsche em Assim Falou Zaratustra sobre o Homem Superior, capaz antes de mais nada de superar-se a si próprio. O primeiro exemplar foi o soldado Stroszek de Sinais de Vida. Sua revolta contra o sol é tipicamente prometeana, e são os fogos de artifício que vão permitir sua derrota final. O pastor Hias, que profetiza as tragédias do capitalismo em Coração de Cristal, também é um ser superior e termina atraindo para si a fúria da turba peias catástrofes que apenas previra. Mas a temática do super-humano está mais clara nas duas epopeias amazônicas.
Tanto Aguirre quanto Fitzcarraldo são tomados pela vontade de poder e pela vontade criadora de que falava Nietzsche. O desejo de galgar montanhas, a opção pelo desespero em vez da rendição e o individualismo delirante são aspectos diversos da revolta nietzscheana contra a mediocridade. Herzog não nutre o menor interesse pelo homem médio, a não ser como referencial de estúpida normalidade. Estes são os anormais de verdade, apesar da aparência familiar, de fácil identificação. A razão está com os loucos e os marginais. Mas a abordagem está longe de ser triunfalista, e por isso todos perdem irremediavelmente, pequenos e grandes. A própria ópera embarcada no final de Fitzcarraldo, que a muitos sugeriu um êxito do imperialismo cultural, não passa de um tosco arremedo do objetivo primeiro, uma espécie de consolo para o sonhador em sua enorme solidão.
Outra personagem puramente herzoguiana – porque se parece com ele – é Juliane Köpke, a única sobrevivente de um acidente aéreo de 1971 na selva peruana, no qual morreram os outros 92 passageiros e tripulantes. Herzog tinha reserva para o mesmo voo, pois estava filmando Aguirre, mas um cancelamento o colocou em avião diferente do de Juliane. Ela se salvou por um misto de sorte e conhecimento da floresta. Alemã de nascimento, crescera com os pais na estação ecológica que eles criaram na Amazônia peruana. Em Asas da Esperança, 27 anos depois, Herzog leva Juliane de volta ao local onde ainda estavam os destroços do avião e ela relata como sobreviveu à queda, aos ferimentos e a 12 dias perdida na selva. É mais uma super-mulher na galeria herzoguiana.
Sobreviventes são por definição super-humanos; Herzog sempre se sentiu atraído por essas histórias. Outro exemplo é Dieter Dangler, um aviador abatido sobre a selva do Laos pelo exército norte-vietnamita, a quem ele dedicou o documentário O Pequeno Dieter Precisa Voar, de 1997, e cuja história recontou no ficcional O Sobrevivente ou Rescue Dawn, de 2007.
Com essa estirpe de super-anti-heróis Herzog tem em comum apenas a ânsia de autossuperação. Seja nas empreitadas quase suicidas, seja na transformação de gente como Bruno S. e os aborígenes australianos em atores, seja ainda no permanente desafio às leis da natureza (tanto nas filmagens quanto no cotidiano), Herzog está sempre testando a si próprio e a sua capacidade criadora.
Gilles Delleuze, num esboço de dialética do Pequeno e do Grande na obra de Herzog, no livro Imagem-Movimento, chamou-o de “o mais metafísico dos autores de cinema”. Herzog rechaçaria o título, alegando que seu cinema não quer ser metafísico — é físico mesmo. Não sei se hoje ainda, mas ele costumava se considerar um atleta, e como tal seus filmes saem dos músculos, não do cérebro. Um cineasta deve saber saltar sua própria altura. Em autocomparações nitidamente nietzscheanas, já se disse “capaz como um Homem de Neanderthal”, equiparou seu caminhar ao de um bisão e seu parar a “uma montanha que descansa”. Foram famosas suas andanças pela Europa, às vezes com o filho às costas, ou o relato de que nadou 80 km guiando fugitivos da Nova Zelândia para a Austrália. Mas nisso tudo existe também o homem miúdo, presa de um medo às vezes paranoico. Retraído, sente vergonha de rir e de encarar as pessoas. As cidades lhe parecem esvaziar-se à sua chegada. Em Caminhando no Gelo, diário de sua peregrinação para salvar Lotte Eisner, é possível encontrá-lo entusiasmado com os cristais de sal que cintilam numa rosquinha posta no lixo, ou com as embalagens de isopor deixadas à margem da estrada. “Um homem a pé é um homem sem defesa”, escreveu.
Anão ou titã, Herzog é o mais vitorioso exegeta do fracasso no cinema contemporâneo. Seus filmes terminam quase sempre com um movimento circular, um impasse, uma interrogação. Que futuro reserva a civilização para o homem, já que a terra o traiu e Deus é contra todos? A resposta pode ser a autossuperação pelo exercício permanente do sonho e da criação. Enquanto Aguirre movia-se pela vontade de poder, Herzog se inflama com a vontade de verdade. Fitzcarraldo queria levar cultura à natureza. Herzog quer trazer a natureza à cultura. Os deuses que se cuidem.
Abaixo, os clipes de filmes exibidos durante a palestra:








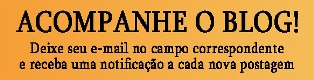


Pingback: Meu balanço de 2023 e os filmes favoritos | carmattos