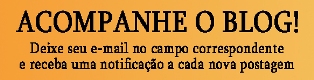FELIZ ANO VELHO
O sucesso de Ainda Estou Aqui convida à revisão de Feliz Ano Velho em oportuno relançamento. O filme de Roberto Gervitz, baseado livremente no livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva – que já havia inspirado uma adaptação teatral –, complementa o filme de Walter Salles ao colocar em evidência o drama pessoal de Marcelo, nomeado como Mário. No longa de Salles, o escritor é um simples coadjuvante.
Em Feliz Ano Velho, o jovem roqueiro Mário (Marcos Breda), 21 anos, é visto numa alternância entre o presente pós-acidente e suas recordações de um passado também não muito radiante. Tetraplégico na cadeira de rodas, ele enfrenta a falta de mobilidade e de perspectivas, espana a piedade alheia e sofre com a exclusão. Nos flashbacks, padece de mil inseguranças e indecisões quanto ao amor e à carreira. O mergulho fatal no lago é apenas a passagem de uma síndrome para outra.
O desaparecimento e morte do pai, fato central em Ainda Estou Aqui, é figurado de maneira simbólica no filme de Gervitz, com a imagem de Odilon Wagner dissipando-se na névoa. Eunice Paiva (papel de Eva Wilma) tem uma aparição condizente com o retrato nobre que Marcelo faz da mãe. De resto, as alusões à política se resumem ao ativismo estudantil de Mário, que dá margem a cenas eloquentes de repressão policial.
Quando de seu lançamento, em 1987, numa pequena resenha no Jornal do Brasil, eu questionava a estética do filme: “O som hiperrealista e as imagens hiper-artificiais compõem o filme mais high-tech que já se fez no Brasil. Mas será que a história daquele garoto, às voltas com suas recordações, medos e complexos, pedia tanta sofisticação?”
A mesma pergunta voltou a me assaltar ao rever o filme agora. Mas o tempo decorrido adiciona outra camada de interesse. Feliz Ano Velho é tanto um filme sobre uma geração como um filme sobre como o cinema apresentava aquela geração pouquíssimo tempo depois. Nove anos transcorreram entre o acidente de Marcelo e o lançamento do filme. Os flashbacks se passam na década de 1970, vista com olhos dos anos 1980. Uma dança performática diante de um videowall ilustra uma das coqueluches da época.
Estávamos, então, na vigência do chamado neon-realismo, uma forma de representar o mundo pelo seu lado mais artificial, estilizado… Em outras palavras, pós-moderno. Cromaquis, espelhos e um cromatismo muito acentuado criam uma visualidade ostensiva. O filme se organiza por um código de cores e temperaturas da imagem mais ou menos assim: azuis e frios no presente traumático, vermelhos quentes no passado de efervescência e verdes nos interregnos oníricos. Essas tonalidades extrapolam a veracidade dos cenários, revelando-se como tinturas metafóricas ou até expressionistas em certa medida. Um cristal com essas três cores dominantes é um símbolo concreto que pontua a narrativa.
Tomo como exemplo a cena em que Mário e Ana (Malu Mader) conversam no Parque Ibirapuera. O céu vermelho sobre eles é como o peso da interação difícil, à beira do fim do namoro. Por outro lado, esta mesma imagem cortada incessantemente por motocicletas que passam velozes em primeiro plano cria um contraste brutal entre o movimento dos veículos e o imobilismo emocional do rapaz. Aliás, a dicotomia entre paralisia e movimentação é recorrente e explorada desde a cena de abertura.
Em 1988, Feliz Ano Velho arrebatou seis kikitos e uma menção especial no Festival de Gramado e teve ótimo desempenho na bilheteria. A restauração e remasterização, levadas a cabo em 2018, fazem jus à qualidade da fotografia de César Charlone, à direção de arte de Clóvis Bueno e à requintada construção sonora. A oportunidade se oferece para uma nova apreciação do primeiro longa de ficção de Roberto Gervitz e uma angulação adicional ao filme de Walter Salles. De quebra, temos um condensado do estado da arte do cinema brasileiro de 37 anos atrás.
>> Feliz Ano Velho está em relançamento nos cinemas.